EMPREGO DE ARMAS BIOLÓGICAS: VERDADEIRO DESAFIO TECNOLÓGICO
Wanderley F. de Amorim Júnior (Eng. Mecânico - MSc)
e-mail: engenheiromec@yahoo.com.br
Emprego das Armas Biológica

Basicamente, existem três
meios
através dos quais um microrganismo pode penetrar em sua vítima humana.
O
primeiro é através da pele, como ocorre quando o mosquito transmite o
vírus da
febre amarela ou o médico inocula a vacina correspondente. O segundo é
a
ingestão juntamente com a comida ou a bebida, forma típica de ataque do
botulismo e do cólera. O terceiro é a inalação, como no caso da
propagação da
peste pneumônica, gripe ou sarampo.(CLARKE, 1970).
É evidente que não há possibilidade
de se disseminar voluntariamente uma doença mediante a produção de
lesões ou a
aplicação de injeções em vasto número de soldados inimigos. Já se
pensou,
entretanto, em usar grande número de animais transmissores infectados,
que
seriam deixados livres e se incumbiriam de levar a moléstia à população
humana.
Os japoneses fizeram muitas pesquisas sobre isso, na década dos
quarenta.
Publicaram-se no Japão pormenores desse trabalho, exibindo-se
fotografias de
bombas biológicas, que consistem em recipientes que seriam deixados
cair em
pára-quedas. Ao tocar o chão, arrebentariam ou abrir-se-iam
automaticamente,
deixando em liberdade, por exemplo, ratos contaminados de peste. A
primeira
exigência dessa técnica é uma instalação produtora capaz de criar
grande
quantidade de hospedeiros infectados.
São poucos, porém, os peritos em guerra
biológica que acreditam hoje ser esse o meio mais eficiente de
disseminar
doenças. Certo é que seria um dos mais arriscados, pois pressupõe a
inclusão de
um terceiro fator – o hospedeiro – em algo que já constitui uma
operação
complexa. Há muitas razões pelas quais a libertação dos veículos
contaminados
pode não produzir nenhum efeito, pois esses animais muitas vezes não
têm
possibilidade de estabelecer-se em ambiente estranho. E se conseguirem,
não
existe meio seguro de determinar o grau em que a doença será
disseminada. O
efeito poderá ser insignificante ou se tornar inteiramente
descontrolado e
terminar por causar uma pandemia. Embora possível, isso é pouco
provável,
porque a maioria dos exércitos modernos (e populações civis) são
perfeitamente
capazes de eliminar os transmissores em seu próprio terreno. Em certas
partes
do mundo, os padrões de higiene são tão elevados que os vetores teriam
poucas
possibilidades de sobrevivência. Ademais, muitos dos veículos
importantes estão
confinados às zonas tropicais e subtropicais do mundo, o que representa
uma
limitação imediata à eficácia da arma. O que resta é, pois, um meio de
ataque
limitado principalmente às regiões equatoriais em que haja pouca ou
nenhuma
higiene pública. Fora disso há uma possibilidade imponderável de
sucesso e o
ataque, ainda que “bem sucedido”, poderia contaminar apenas uma pequena
proporção da população.(CLARKE, 1970).
O segundo método de propagação
poderia ser a contaminação de alimentos e líquidos com matéria
infectada. Essa
é também uma técnica difícil de ser empregada em larga escala. A única
possibilidade de êxito parece ser a contaminação de alimentos nos
próprios
locais de sua produção industrial ou do suprimento de água nos
reservatórios.
Ainda assim isso seria difícil. Tanto os reservatórios civis quanto os
militares são cuidadosa e permanentemente vigiados, para evitar
qualquer
aumento de contaminação por causas naturais. Desse modo, seria
facilmente
detectada com antecedência; além do que os métodos normais de
purificação de
água seriam provavelmente suficientes para eliminar a maior parte do
perigo. O
êxito exigiria uma redução prévia dos padrões sanitários a um nível
muito
baixo.
Isso não quer dizer, é evidente, que
nunca se venha a utilizar esse tipo de ataque. Em caso de guerra,
deve-se
prever a ocorrência de quedas nos níveis de higiene pública. Além
disso, a
crescente centralização das técnicas de industrialização alimentar, o
advento
de meios de comunicação mais rápidos e o aumento da densidade de
população tem
incrementado o risco desse tipo de ataque nos últimos vinte anos. Não
haveria
necessidade de grandes quantidades de matéria infectada ou tóxica. Já
se
calculou que qualquer pessoa que beba 100 mililitros de água
proveniente de um
reservatório de cinco milhões de litros, no qual tivessem sido
colocados 5
quilos de toxina botulínica parcialmente purificada, correria sério
risco de
envenenamento. E naturalmente a contaminação deliberada de alimentos ou
de água
com o fim de eliminar pessoas importantes, civis ou militares, seriam
de
difícil prevenção, no caso de sabotadores experimentados.
Todas as indicações existentes
mostram que as vias respiratórias são o meio mais eficaz para a
introdução de
um agente biológico em larga escala. Geralmente, exigem doses menores e
provocam
efeitos mais graves. Por exemplo, o carbúnculo causado pela absorção de
germes
através da pele tem mortalidade muito mais baixa do que resultante de
inalação.
Muitos argumentam também que esse processo pode ser usado para atingir
populações maiores, pois a própria doença se transmite de uma pessoa
para
outra. Seria necessário estabelecer apenas um foco de infecção pequeno
em uma
parte do país, de onde o mal se espalharia, por si mesmo, por toda a
zona. Isso
suscita um dos mais importantes problemas a respeito do uso real de
agentes
biológicos. Deveriam eles, seja por inalação, ingestão ou injeção, ser
destinados a causar uma epidemia, a propagar-se por toda uma população?
Certamente é essa a noção popular do funcionamento de uma arma
biológica. Uma maneira
de fazê-lo é mediante a introdução de agentes transmissores
contaminados .
Outra alternativa é a introdução de uma doença que se propague
diretamente do
homem ao homem. Por diversas razões, isso é desaconselhável.(CLARKE,
1970).
Em primeiro lugar, não se pode
calcular com certeza quais serão os resultados de um ataque assim. A
epidemiologia é matéria imensamente
complexa, e embora se tenham feito progressos técnicos, o panorama
ainda não é
muito promissor. Isso se dá principalmente porque o epidemiologista é
obrigado,
ou a trabalhar teoricamente, ou a tentar obter dados sobre epidemias
passadas e
presentes e em seguida formular hipóteses para explicá-las. Não é
possível
fazer experiência em populações humanas, e assim os processos normais
da ciência
lhe são negados. É muito difícil prever
com absoluta certeza a progressão geográfica ou o total de mortes que
resultaria da introdução de uma doença epidêmica numa população humana.
A
utilização de uma doença epidêmica seria, assim, uma importante
incógnita
nas equações já complexas da guerra biológica. Além das dificuldades de
utilizar uma arma que produzirá efeitos desconhecidos, existe também o
perigo
de que a moléstia escape inteiramente ao controle e se espalhe por área
muito
mais vasta do que se havia originalmente previsto. Nessas
circunstâncias, seria
temerário, para qualquer nação, ser a primeira a tentar introduzir um
mal
epidêmico numa população, como manobra militar.
Existem, porém, outras razões
mais imediatas e práticas. Se a força
atacante planeja ocupar a região não terá outra alternativa senão
vacinar
contra a doença todos os elemento da força de ocupação. Isso pressupõe
a
existência de uma vacina adequada, e em caso positivo há sempre a
possibilidade
de que o inimigo haja tomado a precaução de imunizar seus soldados, ou
mesmo os
civis, contra o mal. Talvez mais importante seja o fato de que, se uma
moléstia
é epidêmica, poderá já haver ocorrido em determinada população, ou
haver sido
impedida de espalhar-se devido à vacinação em massa. Esse argumento é
importante, pois um microrganismo não pode sobreviver senão em ambiente
adequado. Muitas das doenças
facilmente transmissíveis do homem para o homem, tais como o sarampo,
já
viajaram por vastas regiões do mundo. Em outras, como a Europa e os
Estados
Unidos, seu avanço foi impedido por meio de técnicas de vacinação em
massa.
Tudo isso significa que um agente altamente epidêmico poderá ter menos
possibilidade de contaminar uma população do que uma doença mais rara
que não
possa ser transmitida diretamente de um elemento da população a outro —
e que
naturalmente é rara precisamente por essa razão.
Qualquer
decisão sobre o uso de um agente epidêmico terá também relação
com os objetivos militares do ataque biológico. Se o desígnio é atacar
grande parte
da população simultaneamente, para diminuir a capacidade de resistência
inimiga, um agente epidêmico não oferecerá grande vantagem em
comparação com um
agente não-epidêmico. À medida que uma parte do povo for sendo
imobilizada pelo
mal, outros se restabelecerão. O efeito será portanto parcelado. Seria
mais
eficiente utilizar inicialmente grande quantidade de material
infeccioso e
disseminá-lo em seguida tão completamente quanto possível na região.
Assim, as
conseqüências serão simultâneas sobre todos os atingidos, e uma vez que
o
agente não é transmissível diretamente, será possível invadir o
território
pouco depois do término do período de incubação, com muito pouco risco
para o
invasor.(CLARKE, 1970).
Esse
método de ataque exigirá muito dos recursos do inimigo. Se não se
conhece a cura da doença, ele será incapaz de
proteger seus soldados e sua população. Igualmente, não terá
tempo de
aperfeiçoar uma vacina preventiva, se já não possuir alguma coisa nesse
sentido.
Se, em vez disso, fosse utilizado um agente epidêmico, seria
perfeitamente
possível ao inimigo aperfeiçoar e utilizar uma vacina adequada entre a
primeira
onda de infecção e a segunda ou terceira. Ainda que a doença possa ser
tratada
com antibióticos, a contaminação simultânea de vasta parte da população
deverá
exigir muito mais das reservas de antibióticos do que a incidência
lenta da
doença. A conclusão parece bastante clara: os efeitos de uma arma
biológica
devem ser medidos apenas pelas mortes primárias causadas diretamente
pelo
agente levado ao campo de batalha; as contaminações secundárias não
serão de
grande ajuda, serão de difícil controle e poderão até mesmo estender-se
ao
território do atacante se a doença for epidêmica. Dentre as doenças que
estão
sendo estudadas com afinco pelos centros de guerra biológica em todo o
mundo,
apenas algumas são altamente epidêmicas.
O
fato de que mesmo alguns agentes epidêmicos estejam sendo atualmente
examinados para aplicação militar é causa suficiente de preocupação. Um
dos
maiores perigos da guerra biológica é o fato de que ela ainda está
longe de ser
inteiramente compreendida. Talvez fosse menos sombrio se pudéssemos
saber se os
planos atuais se restringem ao uso de agentes incapazes de produzir
epidemias.
Como explicado, estes últimos, de qualquer forma, são mais desejáveis
do ponto
de vista militar, mas há moléstias epidêmicas causadas por germes mais
vantajosos em relação aos agentes não-epidêmicos. Eis aí outro exemplo
de como
as características de um agente biológico podem ser, e freqüentemente
são,
contraditórias. (CLARKE, 1970).
Sabemos,
entretanto, que quando, um agente biológico for empregado pela
primeira vez o objetivo será contaminar toda a área a ser atacada. Já
se fez
muita pesquisa sobre esse aspecto e ficou demonstrado que para serem
mais
eficientes, os microrganismos devem estar em suspensão em um líquido
que deve
ser espalhado como aerosol (muitas doenças são espalhadas naturalmente
dessa
forma; um espirro, por exemplo, liberta um jato de aerosol altamente
infeccioso), e as pesquisas feitas mostraram que o tamanho das
partículas de
aerosol deve ser de 1 a 5 microns de diâmetro (um mícron equivale a um
décimo
milésimo de centímetro). Nessas dimensões elas serão suficientemente
pequenas
para descer ao pulmão e penetrar na parede pulmonar. O tamanho é, na
verdade,
muito importante: a dose de Brucella
suis necessária para contaminar cobaias é 600 vezes maior com
partículas de
diâmetro de 12 mícrons do que com partículas de 1 mícron de diâmetro. A
dose
infecciosa de vírus de encefalomielite eqüina da Venezuela aumenta
14.000 vezes
se o diâmetro da partícula aumentar dez vezes. (CLARKE, 1970).
Pode-se preparar um aerosol com
partículas de 1 a 5 mícrons de diâmetro mediante o envasamento, sob
pressão do
líquido que contém os germes, e a liberação através de uma pequena
válvula —
como, por exemplo, se faz com tinta para fins comerciais, num
vaporizador. Mas
o líquido deve ser manuseado com muito cuidado — afastado do calor, por
exemplo
— senão os microrganismos podem morrer rapidamente. É difícil obter
dados
exatos sobre o efeito real da pressão sobre o líquido, mas uma
estimativa
indica que um líquido contendo 1010 microrganismos eficazes
por
mililitro antes da vaporização deverá conter 109 organismos
eficazes
por mililitro imediatamente após a vaporização. Isso significa que fica
inutilizada boa parte do material, mas as concentrações iniciais são
tão, altas
que o efeito poderá não ser significativo. (CLARKE, 1970).
As
partículas vaporizadas, desse tamanho, descerão muito lentamente à
superfície terrestre, se lançadas de foguete, bomba ou avião. Uma
partícula de
0,5 mícrons, em ar parado, levará mais de quatro dias para cair apenas
três
metros. E se um vento de 4,5 km por hora estiver soprando, e a
partícula não
encontrar nenhum obstáculo, ela será transportada durante esse período
a uma
distância de 480 km. Sabemos que essa técnica já teve sucesso, pelo
menos em
pequena escala. Voluntários humanos foram contaminados pelo germe que
causa a
febre Q a uma distância de 800 metros do ponto em que o agente foi
lançado.
Também foram infeccionadas cobaias por germes espalhados a 25km.
Existem
estatísticas, entretanto, sobre a disseminação de microrganismos
inofensivos e vaporizações inanimadas. O Dr. Leroy D. Fothergill, que
trabalhou
em Fort Detrick, descreveu a liberação em forma de aerosol de uma
suspensão de
130 ga1ões da forma esporulada de uma bactéria inofensiva, do convés de
um
navio a duas milhas da costa. As partículas do aerosol eram de 1 a 5
mícrons de
diâmetro e foram encontradas mais tarde em uma região que se estendia a
8 km,
para o interior e 37 km, na direção em que soprava o vento. Em toda
essa área,
inclusive nos edifícios, qualquer pessoa que respirasse sem proteção
teria
inalado mais de 3.000 germes em duas horas.
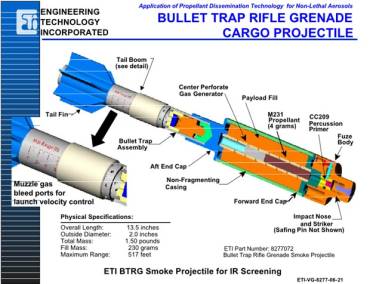
Patente
norte-americana de 2003 de um distribuidor de
carga não letal lançado por disparo que foi concebido para lançar
aerosóis.
Em
outra ocasião, o mesmo pesquisador libertou 200 quilos de sulfeto de
zinco-cádmio — matéria fluorescente — em forma de aerosol de diâmetro
de 2
mícrons. O aerosol foi libertado durante uma viagem de barco de 250 km,
a 16 km
da costa e percorreu 720 km na direção do vento, cobrindo uma zona de
quase
90.000 km2. Nessa área, a dosagem mínima inalada, por
minuto, foi de
15 partículas e a máxima de 15.000 partículas.
Essas
experiências provaram conclusivamente o que os cientistas já esperavam:
uma
nuvem de aerosol pode ser dispersada a grandes distâncias pelo vento.
Em
condições meteorológicas adequadas, é provável que sejam distribuídas
por uma
zona muito maior do que a zona letal da mais poderosa arma nuclear.
(CLARKE,
1970).
Nesse
estágio do uso de armas biológicas é que começam os verdadeiros
problemas. Que estabilidade terá de ter os microrganismos para suportar
os
rigores da exposição ao meio ambiente? Mesmo antes que o ambiente
comece a
fazer sentir seus efeitos, o aerosol começará a perder potência. Por
exemplo, a
dose infecciosa de aerosol com germe da tularemia, para as cobaias, é
de cerca
de 10 a 20 células. Mas se o aerosol for deixado em repouso durante
cinco horas
e meia, a dose decairá para 150 a 200 células (a dosagem infecciosa do
aerosol
de tularemia “fresco” é de cerca de 25 células). Esse efeito deve ser
conjugado
com o poder destruidor complementar do meio ambiente. Enquanto os
microrganismos
caem lentamente em direção à terra, ou são levados pelos ventos
dominantes,
estarão sujeitos a variações de temperatura e umidade e à radiação do
sol.
Essas variações seriam suficientes para matar muitas cepas de
microrganismos,
relativamente depressa.
A
temperatura da atmosfera a uma altitude de 10.000 m é de cerca de 60
graus centígrados negativos. As partículas de aerosol poderiam ser
levadas até
essa altura e depois cair e subir diversas vezes durante uma
disseminação
prolongada em condições meteorológicas perturbadas; poucos germes
suportariam
as variações de temperatura conseqüentes. As exceções conhecidas são
alguns
vírus. Em tal altitude, igualmente, a intensidade da radiação
ultravioleta do
sol é muito maior — existe menos atmosfera para absorvê-la — e isso
seria fatal
à maioria das bactérias e vírus. Além disso, muitas bactérias são
sensíveis à
luz do sol, sob temperaturas inferiores a zero. Qualquer germe que a
temperatura descesse abaixo do ponto de congelamento e depois
retornasse à superfície
terrestre seria muito menos perigoso do que quando libertado. (CLARKE,
1970).
Os
riscos em camadas inferiores da atmosfera também são graves. A
radiação ultravioleta do sol é consideravelmente fatal mesmo ao nível
do solo
e, a menos que fossem libertados à noite ou sob a proteção de camadas
de
nuvens, os microrganismos sofreriam grandes perdas. A luz direta do sol
destruiria grande número das formas vegetativas de bactérias em questão
de
minutos, e até mesmo os esporos em algumas horas. Os esporos poderiam
sobreviver à noite e manterem-se vivos durante dias em condições de
tempo
nublado. As formas vegetativas poderiam sobreviver de 6 a 12 horas
durante a
noite.
A
umidade da atmosfera também teria efeito importante, embora menos
definível, pois alguns microrganismos sobrevivem melhor na umidade e
outros em
ambientes secos. Demonstrou-se que 85% de um aerosol do vírus da pólio
permanece eficaz durante 23 horas (à sombra) se a umidade for de 80% e
à
temperatura de 21 a 24 graus centígrados. Mas à mesma temperatura, com
uma
umidade de 20 a 35%, somente 1% do aerosol resistirá tanto tempo. Por
outro
lado, a situação é inversa para os vírus da varicela — a forma atenuada
de
varíola — que sobrevive melhor em atmosferas secas.
Os
centros de guerra biológica de certos países investigaram a
estabilidade de aerosóis virais e bacterianos em pormenores. Suas
conclusões
obviamente diferem para cada microrganismo, mas a maioria dos estudos
demonstra
a facilidade com que um germe pode ser destruído sob tais condições.
Sem dúvida
aperfeiçoaram-se algumas cepas que podem suportar os riscos ambientais
durante
pelo menos algumas horas, sob certas condições. Mas os rigorosos
requisitos de
estabilidade certamente terão eliminado muitas cepas que de outra forma
teriam
possuído quase todas as propriedades exigidas de uma arma biológica.
Especialmente, buscam-se ativamente meios de colocar os germes dentro
de um pó
protetor ou alguma forma de camada protetora. Muito se pode fazer, na
verdade,
para melhorar a estabilidade de um aerosol biológico. A escolha do
líquido
usado é de capital importância, podendo a ele ser adicionados agentes
químicos
para aumentar a estabilidade.(CLARKE, 1970).
Os
cálculos teóricos demonstram que se cerca de 100 mililitros de um
aerosol contendo 108 microrganismos eficazes por mililitro
pudessem
ser disseminados numa área de 1 km2, até uma profundidade de
2 m,
qualquer pessoa que respirasse tal atmosfera durante cinco minutos
inalaria uma
dosagem de cerca de 100 germes. Essa dosagem seria mais do que
infecciosa, para
alguns microrganismos. Mas o cálculo depende de dois fatores
importantes. O
primeiro é que todos os elementos permaneçam eficazes e isso, como
indicado, é
uma condição difícil de preencher. O segundo é que o aerosol seja
disseminado
uniformemente sobre a área que constitui o alvo. Esse último requisito
é talvez
ainda mais difícil, pois depende de fatores bastantes fora do controle
humano —
os do clima. Acredita-se que partículas de poeira, pairando em elevadas
altitudes, tenham sido transportadas pelo vento dando volta completa ao
globo.
Identificaram-se com exatidão partículas de fumaça sobre o Reino Unido
provenientes de incêndios de florestas no Canadá a uma altitude de
10.000 m. O
que é mais significativo para o assunto os esporos da doença vegetal
conhecida
como “ferrugem” tem sido transportada pelo vento do México ao Canadá.
Pareceria
fácil, pois, utilizar as condições prevalentes de clima para distribuir
aerosóis infecciosos por áreas muito vastas. Na verdade, o problema
real
poderia ser uma distribuição de forma que não cubram zonas maiores do
que as
desejadas — zonas talvez tão vastas que venham a incluir territórios
neutros ou
aliados. (CLARKE, 1970).
A
dispersão do aerosol implica em dois problemas bem distintos. O
primeiro é a disseminação de um agente sobre uma área localizada,
digamos, de
alguns quilômetros quadrados. O segundo é sobre zonas muito mais
vastas.
(CLARKE, 1970).
Se
o agente deve ser distribuído diretamente no local, será necessário
fazê-lo cm períodos de relativa calma e quando o vento for fraco e
estável.
Rajadas ou torvelinhos poderiam dispensar o material, diluindo-o com o
ar não
contaminado antes que fosse possível contagiar o inimigo. Seria difícil
até
mesmo utilizar um vento médio que soprasse constantemente. (CLARKE,
1970).
Quando
sopra o vento, a velocidade da corrente de ar é sempre menor ao
nível do solo do que na altitude, devido ao atrito com o terreno; tal
como a
fricção com o leito do mar retarda a marcha da parte de baixo da onda
que se
quebra. Esse efeito tenderá também a diluir a nuvem de aerosol no ar
fresco,
porque a corrente junto ao nível do solo ficando turbulenta, a mistura
se dará.
Ao utilizar armas químicas, esse efeito poderia prejudicar o ataque,
mas é
provável que não seja muito nocivo ao aerosol biológico, pois esses são
tão
potentes que será necessário menos material. Acredita-se que ventos de
quatro
milhas por hora sejam os ideais para armas químicas; os de dez milhas
são
considerados aceitáveis. Para dispersar agentes biológicos, poderiam
ser
utilizados ventos de velocidades maiores; na verdade, poder-se-ia fazer
com que
o material viajasse rapidamente, de modo que ficasse exposto à
atmosfera por um
tempo mínimo — quanto menos tempo estiver na atmosfera, mais eficaz
será. Se o
agente não for libertado diretamente sobre o alvo, terá evidentemente
de sê-lo
num ponto em que o vento o leve ao alvo. Essa observação pode parecer
óbvia,
mas conhecem-se casos em que certos comandantes, ao utilizarem gás
lacrimogêneo
para controlar distúrbios de rua, conseguiram apenas que os agentes
químicos
retornassem para atingir as tropas que os haviam lançado. Tais erros
poderiam
facilmente ser cometidos na guerra, especialmente com uma arma tão nova
a
respeito da qual os comandantes teriam recebido um treinamento mínimo e
seus
soldados menos ainda.
Na
dispersão de um aerosol, não se devem considerar apenas os ventos
horizontais. A atmosfera está em contínuo movimento vertical, sobretudo
devido
às correntes térmicas, que ocorrem durante o dia, quando a terra se
aquece e
produzem-se correntes de ar de convecção ascendente. Por essa razão
poder-se-ia
dizer que a noite é a melhor ocasião para o lançamento de aerosóis,
sendo a
madrugada e o fim da tarde as alternativas possíveis. Nessas horas a
atmosfera
está estacionária e o movimento vertical do ar estabilizado, com um
“teto”
relativamente baixo, acima do qual não há mistura de ar. Pode-se ver,
então a
névoa baixa, junto ao solo, penetrando em todas as concavidades e
vales. São
essas precisamente as condições que, juntamente com um vento lento e
constante,
seriam necessárias para a dispersão localizada de armas químicas ou
biológicas.
Ocorrem somente durante parte de determinados dias e são muito mais
comuns em
algumas estações do ano do que em outras; por exemplo, nas ocasiões em
que se
formam áreas de alta pressão. Conclui-se daí que as zonas de clima
altamente
variável (característica pela qual as Ilhas Britânicas são repelidas)
são menos
suscetíveis de ataque químico ou biológico do que outras mais estáveis.
Mas não
se devem fazer generalizações amplas baseadas nesses fatos. Basta dizer
que o
comandante de uma força-tarefa biológica ou química terá de escolher a
ocasião
com cuidado e provavelmente de esperá-la com paciência. (CLARKE, 1970).
Planeja-se
um ataque localizado, o aerosol terá de ser libertado em nível
bastante baixo. Essa operação pode ser difícil em território inimigo,
como
demonstrou a experiência norte-americana de desmatamento e destruição
de
colheitas no Vietnã. Foram consideradas pelos pilotos norte-americanos
como as
mais perigosas missões dentre as que deveriam cumprir. Espera-se sempre
que o
avião seja atingido; em 1966, em cada 28 missões, um avião foi
atingido. Nessas
operações, os norte-americanos dispersaram os agentes químicos mais ou
menos sobre
os alvos, de uma altitude de poucas centenas de metros. Devido ao fato
de
atacarem zonas relativamente vastas, não tiveram outra alternativa
senão a de
empregar aviões; bombas ou foguetes não dariam para cobrir toda a zona
alvejada.
Desejando-se
atacar uma concentração militar, ou uma população civil,
existem muitos métodos de disseminação. Não é de domínio público a
forma pela
qual a carga poderia ser dispersa em aerosol, mas presume-se que exista
algum
sistema de pressão que possa começar a funcionar quando ela se
aproximar do
solo ou que distribua o material após o impacto. A principal
dificuldade é que
o material biológico deve ser libertado em baixa altitude; do contrário
os
níveis mais elevados de radiação ultravioleta da atmosfera superior
matariam
rapidamente os agentes. Por esse motivo, a hipótese mais acertada seria
uma
espécie de bomba munida de um pára-quedas que se abrisse à altitude
apropriada,
mesmo levando-se em conta que, ao ser lançada durante o dia, ela
própria
denuncia sua presença, antes do momento em que o material biológico
possa fazer
efeito.
É
difícil falar com conhecimento de causa sobre os meios de disseminação
de agentes biológicos, porque nenhuma nação publicou jamais quaisquer
dados
fidedignos sobre seus sistemas. Com efeito, fora dos círculos
militares,
ninguém sabe se alguma nação possui uma arma biológica já no estágio em
que seu
uso seria militarmente possível. Quase todas as declarações oficiais a
respeito
se têm referido à defesa.
A afirmação de que existem
agentes biológicos capazes de contaminar áreas com a extensão de
continentes
também deve ser interpretada com cuidado. Provavelmente ele quis dizer
apenas
que os Estados Unidos possuem instalações capazes de produzir material
suficiente para contaminar teoricamente uma área dessas dimensões. Isso
é muito
diferente de afirmar que se possui uma arma capaz de funcionar na
prática com
uma probabilidade de 100% de sucesso e com resultados militarmente
desejáveis.
A contaminação de áreas do tamanho de continente significaria que o
material
teria de ser libertado a altitudes relativamente baixas e a
probabilidade de
sua persistência por período de tempo suficientemente longo para ser
transportado em condições com eficácia da extremidade de um pequeno
continente
à outra seria marginal, para dizer o mínimo. Igualmente, não haveria
indicações
seguras do local onde o material terminaria por alojar-se. É certo que
alguns
ventos costumam soprar constantemente em uma direção geral fixa durante
certas
estações. Mas, ao planejar uma operação militar destinada a contaminar
um
continente, seria necessário conhecer com absoluta certeza as direções
e força
dos ventos numa vasta área, durante o período de vários dias. No
momento,
positivamente não possuímos essas indicações e as condições
inerentemente
mutáveis das características meteorológicas parecem indicar que jamais
as
possuiremos.
O
método mais seguro de utilizar um agente biológico seria disseminá-lo
por toda a área a ser atacada. Dessa forma não seria necessário
depender da
dispersão lateral do aerosol pelos ventos prevalentes. Para muitos
cientistas,
a idéia de libertar uma vasta nuvem de aerosol ao longo da linha de
limite do
vento na costa de uma massa de terra e esperar, depois, que a corrente
de ar se
encarregue de transportá-la a todo o território não parece realista.
Seria
certamente uma operação perigosa, porque sempre haveria a possibilidade
de que
a nuvem se espalhasse por outras regiões que não a desejada. Do ponto
de vista
militar, seria uma maneira muito aleatória de usar algo que, de
qualquer forma,
é ainda uma arma duvidosa e não
experimentada.(CLARKE, 1970).
As
dificuldades de contaminar uma área menor, por exemplo, uma grande
cidade, são muitos menores. Não seria necessária uma quantidade muito
grande de
material infectado e a possibilidade de que viesse a espalhar-se numa
área além
da prevista reduzir-se-ia proporcionalmente. O agente não teria de
resistir na
atmosfera durante muito tempo e portanto seria capaz de permanecer em
condições
adequadas durante o tempo desejado. Além disso, a eficiência da
libertação de
aerosóis biológicos em pequena escala já foi provada nas experiências
simuladas
aqui descritas. (CLARKE, 1970).

O carregamento de uma arma biológica é outro problema, já que as propriedades do material biológico tendem a modificar-se quando armazenado, e portanto é preferível manter a arma estocada em forma de cultura nos laboratórios do que de bombas prontas para uso imediato mas isso não quer dizer que não possam ser produzidas rapidamente. Com efeito, é difícil imaginar que uma arma biológica possa ser experimentada eficientemente, antes que venha a ser usada contra um inimigo de verdade.
BIOTECNOLOGIA: O FUTURO DAS ARMAS BIOLÓGICAS
Como
pode ser observado as armas biológicas constituem um imenso desafio
tecnológico. Problemas de grande complexidade envolvendo fabricação,
emprego e
armazenamento devem ser superados para que se tenha uma arma biológica
eficaz.
Esses problemas afetam diretamente duas características principais
deste tipo
de arma: a Virulência e a Transmissibilidade.
Atualmente, o incrível avanço da
biotecnologia trouxe novas possibilidades para a criação e emprego de
novas
armas biológicas. As técnicas de biologia molecular e de manipulação
dos genes
permitem alterar células e organismos de maneira altamente específica
favorecendo o desenvolvimento de novas armas biológicas.
Existem várias maneiras de fabricar
armas a partir do DNA recombinado: são
as chamadas “designer weapons”- ou armas biológicas artificialmente
criadas. A
biotecnologia permite a programação de genes em microorganismos para
aumentar
sua resistência a antibióticos, sua virulência e sua estabilidade no
ambiente.
É possível inserir, nos organismos,
genes que afetam as funções reguladoras que controlam o humor, o
comportamento
e temperatura corporal. Cientistas visualizam a possibilidade de clonar
toxinas
seletivas, com o objetivo de eliminar grupos étnicos e raciais precisos
cujo
genótipo os predispõe a certas doenças.
A engenharia genética também pode
servir para destruir espécies vegetais cultivadas ou gado criado,
quando o
objetivo é destruir a economia de um país. As novas técnicas de
engenharia
genética criam uma variedade muito grande de armas que podem ser
utilizadas
para fins militares diversos, desde o terrorismo e as operações
antiinsurrecionais até a guerra em grande escala contra populações
inteiras.
As universidades e a indústria de
biotecnologia contribuem direta ou indiretamente para o bioterrorismo.
Nos EUA,
o número de doutorados em ciências biológicas cresceu 30% entre 1975 e
1991. A
indústria americana emprega cerca de 60 mil cientistas na área
biológica. Há
mais de 1300 empresas de biotecnologia nos EUA. Não havia nenhuma há 25
anos.
Cerca de 40% dos laboratórios farmacêuticos e de biotecnologia do mundo
inteiro
ficam nos EUA.
Portanto para se produzir armas
biológicas com grande capacidade de destruição é preciso dominar
técnicas
industriais de cultivo e fermentação de bactérias que provavelmente só
existem
nos grandes laboratórios científicos dos Estados Unidos, da Europa
Ocidental e
do Japão, custeados pelo Estado ou pelas grandes multinacionais do
setor
farmacêutico.
Aprovado
pelo Congresso norte-americano em julho de 2000, o chamado Plano
Colômbia
inclui o apoio à nova estratégia do Programa das Nações Unidas para o
Controle
Internacional de Drogas de utilizar agentes biológicos para combater o
cultivo
de coca.
Sob a
égide dos Estados Unidos e do Reino Unido,
armas biológicas já estão sendo usadas em pesquisas no Uzbequistão
na “guerra contra as drogas”.
O governo
colombiano recusou o uso desses agentes biológicos em seu território,
levando
Rand Beers, subsecretário do Departamento de Estado norte-americano
para
assuntos internacionais e do narcotráfico, ratificado pela
administração Bush,
a afirmar em outubro de 2000 para BBC de Londres que, se a Colômbia
continuasse
a negar-se a permitir os testes de utilização do fungo contra a coca,
ele, por
sua parte, não estava disposto a dar o assunto por encerrado. O
cientista
americano Davis Sands, que possui os direitos sobre este fungo,
declarou :
“Vamos entrar sem autorização”.
Em julho
de 2001, os EUA anularam seis anos de
negociações do Protocolo para a Verificação da Convenção sobre Armas
Biológicas, com a intenção de violar o tratado. Disse que o acordo
colocaria em
risco a confidencialidade de sua indústria farmacêutica e das pesquisas
biológicas. Em dezembro de 2001, provocou o fracasso da Quinta
Conferência de
Exame da Convenção sobre as Armas Biológicas, que duraria até 11 de
novembro de
2002, sem aprovar nenhuma resolução. O embaixador norte-americano em
Genebra,
Donald Mahley, disse à reunião que seu país não aceitará ser limitado
no uso de
armas biológicas na guerra contra as drogas, porque quer usá-las na Colômbia.
Os EUA tinham
um arsenal de armas químicas de mais de 30 mil toneladas e a antiga
URSS de
mais de 400 mil toneladas. A antiga URSS possuía o maior programa de
armas
biológicas da história humana, o Biopreparat, com mais de 60
laboratórios e 30
mil membros.
CONCLUSÃO
A
complexidade de fabricação e emprego das armas biológicas
dificultam o seu uso no campo de
batalha, sendo restrito e em algumas situações impossível fazendo com
que
alguns estudiosos afirmem que: “as armas biológicas constituem uma
classe de
armas que não podem ser “apontadas”.
A
capacidade de um país ou de um grupo terrorista de fabricar cepas de
agentes biológicos é apenas o primeiro passo dentro de tantos outros
necessários para a fabricação de uma arma biológica. A posse de uma
arma
biológica não significa a posse de uma arma de destruição em massa.
Atualmente,
o incrível avanço da Biotecnologia trouxe novas possibilidades para a
criação e
emprego de armas biológicas realmente eficazes. Resta saber se todos os
desafios técnicos de fabricação, armazenamento e emprego das armas
biológicas
foram solucionados. Se realmente esses desafios foram solucionados
outra
indagação deve ser feita: Quais são os países que podem gerar e
empregar a
Biotecnologia em armamentos biológicos?
E a resposta provavelmente será: os EUA, Japão, países da Europa
Ocidental e
Rússia. É possível que o futuro dessas armas esteja nas mãos desses
países.
Portanto atualmente o desenvolvimento e emprego de uma arma biológica
com real
capacidade de destruição em massa é um grande desafio técnico-militar.
BIBLIOGRAFIA
CLARKE,
ROBIN. Guerra Silenciosa. Ed. Bibliex e ed.
Laudes. Rio de Janeiro, 1970.
TIMMERMAN, KENNETH R. O lobby da morte – como o ocidente armou o Iraque. Ed. Objetiva. Rio de Janeiro, 1992
MILLER, J. e MYLROIE, L. Sadam Hussein e a crise do golfo. Ed. Scritta. São Paulo, 1990 .
FERNANDES, PATRICIA M. B. A guerra biológica através dos séculos. Ciência Hoje, vol. 31, nª 186, setembro de 2002.
OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A guerra química – controle e violações (1ª Parte). Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. XI, nª 2, abr-jun, 1994.
OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A guerra química – controle e violações (2ª Parte). Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. XI, nª 3, jul-set, 1994.
OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A Indústria Química e a Guerra Química. Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. X, nª 2, abr-jun, 1993.
ORENT, W. A arma da peste. Jornal Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2001.
POSSO, D. G. especial para a Folha. Jornal Folha de São Paulo, 30 de dezembro de 2001.
RIFKIN, J. Bioterrorismo high-tec e revolução genética. Jornal Folha de São Paulo, 11 de novembro de 2001.
VARELLA, DRAUZIO. O pânico do antraz. Jornal Folha de São Paulo, 20 de outubro de 2001.
DA SILVA, C. E. L. Terrorismo high-tec banaliza a morte. Jornal Folha de São Paulo, 28 de maio de 1995.
WRIGHT, ROBERT. Arma biológica foge do controle internacional. Jornal Folha de São Paulo, 28 de maio de 1995.
SAMPAIO, S. A. P. Antraz e carbúnculo. Jornal Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2001.
HUTCHINSON, S. Terrível segredo. Ed. Abril. Veja, 3 de junho,1998.
MOODIE, M. O horror invisível. Ed. Bloch. Manchete, 20 de dezembro de 1997.
Novos terroristas vão atacar com armas químicas, vírus e bactérias. Jornal Folha de São Paulo, 4 de agosto de 1996.
FISK,
ROBERT. O
que Bush quer que esqueçamos. Jornal
Folha de São Paulo, 09 de
outubro de
2002.
2005 ©Sistemas de Armas
| Opinião |
Fórum - Dê a sua
opinião sobre os assuntos mostrados no Sistemas de Armas
Assine a lista para receber informações sobre
atualizações e participar das discussões enviando
um email
em branco para sistemasarmas-subscribe@yahoogrupos.com.br